terça-feira, fevereiro 27, 2007
Fernando Pessoa - Em linha reta
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo.
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;
Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida...
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?
Ó principes, meus irmãos,
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
Poderão as mulheres não os terem amado,
Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca!
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,
Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear?
Eu, que venho sido vil, literalmente vil,
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.
segunda-feira, fevereiro 12, 2007
Freaks
Frank Zappa, 1966.
quinta-feira, fevereiro 08, 2007
Brincadeiras da vida
Pois neste caso não é exatamente uma coencidencia, mas sim uma piada. Eu estou fazendo estagio, como já coloquei aqui, na "Colonia" (hoje chamado Instituto) Juliano Moreira, lugar onde já houveram mais de 3000 internações psíquiatricas num mesmo período, com a reforma psíquiatrica e a política de desinstitucionalização o número caiu consideravelmente, em parte, pelas pessoas idosas que foram morrendo, e por outro lado, pelo acolhimento das familias e pela saida de pacientes mais organizados, que conseguiram trabalho, lar, etc.. enfim, ai tem muitas causas.. Hoje, a Colonia conta por volta de 650 internos, ou usuários, como tem-se frequentemente chamado. Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo.
Acabou que na escolha do núcleo (escolha porque passei por concurso, ai é tudo escolhido por ordem de pontuação) eu escolhi o núcleo Rodrigues Caldas dentro da Juliano Moreira. Mas não vou adentrar muitos pontos aqui, quero voltar para a piada. Tive que vir antes até aqui, pois apos escolher o núcleo Rodrigues Caldas fui pesquisar na internet quem foi esse sujeito, afinal, ele da nome ao núcleo que estou. Então encontro bonitas informações:
Ele foi um dos diretores da Colônia Juliano Moreira, que em 1920, no seu discurso inaugural como diretor disse, em "belas" palavras, estar pronto para lidar com "os delicados problemas atuais de higiene e defesa social pertinentes aos deveres do Estado para com os tarados e desvalidados de fortuna, do espírito ou do caráter, para com os ébrios, loucos e menores retardados, ou deliquentes abandonados, assim como para com os indesejáveis inimigos da ordem e do bem público, alucinados pelo delírio vermelho e fanático das sanguinárias e perigosíssimas doutrinas anarquistas ou comunistas".
É ou não uma brincadeira do destino que eu esteja estagiando lá?
terça-feira, fevereiro 06, 2007
“Jung e a complexidade: totalidade e multiplicidade”.
Elizabeth Cotta Mello
Mestre em Psicologia/Professora das FAMATh
Esse artigo se propõe apontar a concepção epistemológica da psicologia analítica dentro da proposta do novo paradigma para a psicologia clinica. Pretende-se ampliar trabalhar como de Sigelmann et alii (1989) sobre epistemologia, enfocando a psicologia analítica. Devido a abrangência, não se pretende esgotar o tema. Começaremos com um breve histórico da psicologia de C.G. Jung e a seguir discutiremos sua postura epistemologia dando continuidade a autores como Franz (1980), Silveira (1981).
C.G. Jung iniciou sua atividade psiquiátrica em 1900. Em 1905 trabalhou com o famoso psiquiatra Bleuler. Como comenta Nise da Silveira (1981), o interesse de ambos consistia em trazer esclarecimentos concernentes à estrutura psicológica dos fenômenos mentais ligados a psiquiatria descritiva. Recorreram a experimentos com associações verbais. As pesquisas realizadas apontaram para a existência de complexos afetivos não conscientes capazes de produzir manifestações involuntárias. Estabelecia-se, assim, um caminho experimental como via de acesso ao inconsciente. Freud tinha desenvolvido seu trabalho sobre sonhos onde chegava as mesmas conclusões. No ano de 1907 até 1912 surgiu uma estreita colaboração entre Freud e Jung. O rompimento com Freud veio em “função das diferenças existentes entre eles que se tornaram explícitas no livro ‘Metamofoses e símbolos da libido’ de 1912” (Silveira, Op.Cit). Jung retomava a definição etimológica de libido como energia psíquica em geral. Já se pronunciava também a cosmovisão de Jung no que tange a noção de totalidade e autonomia inconsciente.
Mediante estudos interdisciplinares das ciências e das tradições, em especial com a física, Jung percebeu que as ciências em geral, e não somente as humanidades, exigiam a formulação de uma linguagem contextualizada e de uma comunicação entre saberes (ciências, artes, tradições), unindo subjetividade e objetividade na relação cognoscente. Desde a década de 50 Jung e W. Pauli (prêmio Nobel de física de 1945), e outros estudiosos, trabalharam juntos nessa busca (Cf. Jung, 1984; Franz, in: Jung s/d; Jung & Pauli, 1952 apud Jaffé, 1990).
Cabe pontuar alguns pressupostos por onde a ciência se pautava para iniciarmos a discussão posterior sobre a postura epistemológica da psicologia analítica e o novo paradigma. Existiam, na ciência clássica, alguns pressupostos: 1. O princípio de universalidade: aceitação de verdades absolutas; 2. Princípio da causalidade linear, não existindo liberdade sem inovação; 3. o tempo como uma das dimensões do universo, onde tudo é reversível; 4. o complexo se reduzindo ao simples jogo de elementos (e o rompimento com a totalidade); 5. a preditibilidade total, onde nada poderia escapar ao controle “a autonomia não é concebível” (Morin, 1996: 331); 6. a objetividade total calcada em um realismo (separação absoluta entre o objeto e o sujeito), logo a eliminação da subjetividade; 7. a quantificação e a formalização que relegava o resta à ilusão. (Morin, 1996; Sigelmann, Op. Cit; Mello, Op. Cit).

A união dos princípios: universalidade e singularidade
Evitando enveredar por uma investigação de como se deu o processo de mudança e a crise da ciência, é fato que quanto mais os estudiosos se aprofundavam nas suas especialidades, mais tiveram que se confrontar com situações que lhes retiraram a segurança de leis permanentes. “A descontinuidade entrava pela porta principal – a da experiência científica” (Nicolescu apud Kuperman, 1993: 123): A ciência começava a se admitir local, paradoxal, por vezes.
Na psicologia analítica, apesar da validade de leis gerais, estas são consideradas insuficientes; o inconsciente assume “uma variedade e uma multiplicidade também muito grandes” (Jung, 1984: 114). O essencial é que “o inconsciente se transforma e provoca transformações” (Jung, 1963: 184).
Na clínica a singularidade de cada mensagem (texto-contexto-subtexto) e sua indicação de caminho residem essencialmente na vivência imprevisível da relação terapêutica: eis a arte que segue a teoria e a técnica. Para C.G. Jung o grande fator na psicoterapia é o terapeuta e a “combinação (al)química” que transforma ambos: “O que significa ele para mim” sempre perguntava-se Jung (1963: 123), acrescentando: “Se nada significa, não tenho um ponto de apoio”. As teorias e técnicas são inevitáveis, mas não passam de meios auxiliares da prática: precisamos estar prontos para “abandoná-las”.
2. Causalidade linear versos causalidade complexa e acausalidade
Para a psicologia de Jung a causalidade é fundamentalmente um “pré-conceito” da cultura ocidental, idéia que para Descartes é garantida pela noção de imutabilidade de Deus (Cf. Franz, 1980). A vida é basicamente acausal, mas a causalidade complexa não é descartada. Sobre ela, Morin (1996: 332), fala de uma “causalidade mútua inter-relacionada, com o princípio da endo-exocausalidade para os fenômenos de auto-organização”. Para C.G. Jung o inconsciente está em constante trabalho de revolver conteúdos, agrupá-los e reagrupá-los. Mais que isso, para ele, a libido energia, pode metamofosear-se, nos indivíduos, através da dialética entre consciência e inconsciente (Cf. Silveira, Op. Cit). O pensamento sincronístico¹ (Cf. Franz, 1985), por sua vez, não existe na seqüência de eventos, podendo ser entendido como pensamento cujo centro é o tempo. Se não há garantias de ordenação dos fenômenos, a causalidade perde o seu sentido.
3. Tempo e Espaço e Tempo-Espaço: as duas possibilidades
Por um lado, podemos falar da necessidade de “fazer intervir a história e o acontecimento em todas as descrições e explicações” (Morin, 1996: 332), por outro, intervém além dessa história particularizada dos fenômenos, o rompimento dessas categorias no inconsciente. A própria questão do tempo passa a ser problematizada. Para a nossa consciência “newtoniana” o tempo e o espaço estão separados, existindo linearidade, sendo essa uma vivência apenas do “nosso universo” conhecido. Porém, no inconsciente só existe virtualidade. A noção de espaço e tempo é posterior, é uma categoria da menta consciente. O constructo do inconsciente se enquadra nos pressupostos da física quântica e cosmologia moderna, e na perspectiva matemática atual onde a equação sobre o tempo decifrada por Godel é uma circulo (Cf. Novello, Op. Cit).
4. Totalidade hipercomplexa do real e a Multiplicidade
O cerne da psicologia analítica é tomar o real como totalidade, mesmo sabendo não ser possível abarcá-la (Cf. Nunes, 1989). Representações de totalidade aparecem em todas as expressões culturais (arte, mito, etc.) e são símbolos presentes em “todas as nossas representações inconscientes” (ibid, pág 217), como concluiu Jung (1986: 185): “o que se pode dizer com alguma certeza é que os símbolos apresentam um certo caráter de totalidade e por isso, presumivelmente, significam totalidade; via de regra, trata-se de símbolo de unificação, isto é, da conjunção de opostos”. Jung também chama a atenção para o significado da palavra “totalidade ou total” que é “tornar sagrado ou curar” (Jung, 1987: 159). A psicologia analítica propõe, então, respeitar a idéia que curar possui o sentido de convivência com o conflito e busca do todo harmônico. O objetivo da terapia seria, então, permitir a comunicação do sujeito com o seu sentido único de totalidade.
A maioria das doenças ou dificuldades humanas, sejam elas psíquicas e/ou físicas significam, dentro dessa visão, dissociações; a um só tempo, perda da harmonia e tentativa de reequilíbrio. A doença não é uma situação externa, isolada, é um caminho que permite a complexidade da conformação total. As narrativas mitológicas de heróis e heroínas, por exemplo, são modelos de receptividade para reações emocionais que solidificam o consciente, acolhendo os impulsos do inconsciente (Franz, 1996), logo, histórias de luta contra o adoecer. Os heróis cotidianos são aqueles que aceitam os desafios (possíveis) que se apresentam (Jung, 1981b), garantindo que a abundância do inconsciente não seja vertido em um vaso estreito demais (Franz, Op. Cit.).
5. Previsibilidade versus imprevisibilidade: a ilusão do controle absoluto
C.G. Jung foi contrário a idéia de fundar uma escola hegemônica em psicologia (1981a; Cf. Franz, 1980). Defendia a complexidade do psiquismo e a multiplicidade de facetas destes, logo, a convivência na co-disciplinaridade psicológica (divergente) e a parcial integração-comunicação dos conhecimentos (Jung, 1981a).
6. O retorno da totalidade múltipla: a união da subjetividade e a objetividade
Na prática, afirmava: “Cada vida é um desencadeamento psíquico que não se pode dominar, a não ser parcialmente. É muito difícil, por conseguinte, estabelecer um julgamento definitivo sobre si mesmo ou sobre a própria vida” (Jung, 1963: 53). Na atualidade os estudiosos trouxeram legitimidade para os questionamentos de Jung (1984; Cf. Amaral, 1995: 11; Morin, Op. Cit; Nicolescu, 1995; etc).
Discutir sobre objetividade e subjetividade é se dirigir às próprias condições de verdade, de conhecimento e inteligibilidade. Mais ainda, é falar do ser humano. Como Lyotard (1994) e Pedro (1996) concluímos: é a partir da invenção da ciência que se passa a falar em cultura como separada da natureza e do humano como separado do inumano, acontecimento inaugurado na modernidade (ibid).
A interação é uma proposta de ajustes e reajustes permanentes nesses sistemas vivos (Jung, s/d, 1981a; Morin 1996). Surge a noção complexa e paradoxal de sistema: onde o todo do sistema é maior que a soma das partes, de uma combinação viva e criativa e onde as partes, em suas multiplicidades inesgotáveis e dinâmicas, não se reduzem ao todo. Unidade e singularidade se interpenetram e se unem de forma imprescindível como a própria vida que pode ser esse todo e cada um de nós possamos ser manifestação única dessa amplitude. Na clínica: “O fato decisivo é que enquanto ser humano encontro-me diante de outro ser humano. A análise é um diálogo que tem necessidade de dois interlocutores” Jung (1963: 121).
O aspecto nefasto da subjetividade é a inconsciência, não em si mesma, mas a sua permanência. Nesse sentido, é lente que distorce e amplia o real, não é uma ilusão qualquer, mas outra realidade, como na paixão, é expressão de nossa totalidade desconhecida. Como observa Fernando Pessoa, com a síntese que a arte permite: “Tu és a tela irreal em que erro em cor a minha arte”. As fantasias (projeções) podem ser utilizadas para narrar sobre nossas possibilidades de criatividade, logo é preparação para todas as relações inter e intrapsíquicas.
Jung, como coloca Siegelmann, “(...) conseguiu integrar (...) polaridades com o inconsciente coletivo” (1989, 28). O encontro entre subjetividade e objetividade transcende a psicologia, é uma tarefa de todo o processo de conhecimento. Como resume Heinsemberg (Apud Arent, 1958: 26), o homem ao examinar a natureza e o universo, em lugar de procurar e achar qualidades objetivas, encontra sua subjetividade (Cf. Franz in: Jung s/d; Jung, 1984).
7. A associação de noções complementares e antagônicas:
C.G. Jung e W. Pauli, a partir de contribuições mutuas, concluíram que o “(...) único ponto de vista aceitável parece ser o que reconhece, como mutuamente compatíveis, ambos os lados da mesma realidade – o quantitativo e o qualitativo, o físico e o psíquico – podendo abarcá-los simultaneamente” (Pauli & Jung apud Jaffé, 1990: 37). Jung recusa toda a quantificação como resposta última e única: “Jung considerava as afirmações estatísticas em psicologia e sociologia como (...) abstração mental” (Franz, 1992: 205).
Considerações Finais: Por um princípio de Complexidade
A psicologia de C. G. Jung é denominada psicologia complexa na Alemanha mas analítica no resto do mundo. É fundamental observar que o nome surgiu por pretender se ocupar dos fenômenos psíquicos em sua complexidade. Jung admite que cada indivíduo possua uma totalidade única que se expressará na medida em que viabilizar expressões de sua individualidade. Por outro lado, a psicologia analítica assume que o homem, no seu trabalho artesanal de auto construção, utiliza elementos exteriores e interiores, que também são compartilhados pela humanidade, ou seja, cada ser é parte de um sistema completo, onde todas as partes, por estarem interligadas, possuem uma totalidade anterior. O sujeito é entrecruzado por várias linguagens: a individual (sua história) e a coletiva que o coloca e o envolve em múltiplas interfaces interconectadas, a partir dos inúmeros pertencimentos do mesmo ao seu grupos e subgrupos. Por outro lado, o homem é animalidade e possui em comum com sua espécie determinadas características. E uma delas é, inegavelmente, sua possibilidade de romper com o ecossistema, de se distanciar de suas necessidades vitais, dissociando-se de sua totalidade. Cada sujeito (microcosmo) é ao mesmo tempo singularidade e parte da unidade. Somos constituídos por uma multiplicidade geral de combinação infinita, inesgotável, insubstituível como expressão subjetiva e objetiva de uma face do todo, não reduzível a unidade.
“Esta apreensão da totalidade constitui também a meta da Ciência (insiste) (...) em colocar questões bem definidas, que excluem, o quanto possível, tudo o que perturba (...) Com este fim, cria-se em laboratório uma situação artificialmente limitada à questão, que obriga a natureza a dar uma resposta inequívoca. (...) Mas se queremos conhecer em que consiste esta ação, precisamos de um método de investigação que imponha o mínimo de condições possíveis, ou, se possível, nenhuma condição, e assim deixa a natureza responder com sua plenitude” (Jung, 1986: 28).
Como comenta Morin (1980) sobre a curiosa situação das ciências humanas: em função do método limpamos o campo e banimos o sujeito das humanidades para que as ciências do homem pudessem ser científicas.
Para nos aproximarmos dos fenômenos é necessário a convivência de diferenças, de antagonismos. Para unir-mos, sem perder indentidades, precisamos admitir diferenciações, logo, unir sem “confundir”. Aceitar a ilusão da previsibilidade que surge a cada nova revolução epistemológica é ceder a uma cultura que insiste em capturar o novo e o múltiplo em esquemas definitivos.
A modernidade tem trabalhado mais com a separação (“logos”), que olha a totalidade e a desmembra, roubando-lhe a sua multiplicidade e o sentido de coesão e interconexão (“erros”). Aproximar saberes é desmontar essa edificação cultural e arquetípica de verdades unívocas. As especializações (ainda que necessárias) cumprem a finalidade de separar o conhecimento do homem sobre o mundo, logo a consciência da complexidade. Além disso, facilitam a prática acrítica. Só quando confrontarmos teorias e práxis é que podemos perceber as conseqüências éticas das tecnologias. Devemos estar sintonizados com a contemporaneidade para não vermos os destroços de nossa inconsciência individual e social. Quem pode se esquecer do desespero do física Oppenheirner que um dia acreditou que havia descoberto o segredo do átomo, mas só depois de Hiroshima e Nagasaki pode se aproximar da totalidade do mesmo. O conhecimento sem consciência é muito mais destrutivo do que a ausência de conhecimento (Cf. Byington, 1998). É responsabilidade da psicologia refletir sobre o sujeito do conhecimento e seu academicismo povoado de tecnologias destrutivas.
Referências Bibliográficas:
Amaral, M. T. (1995). O homem sem fundamentos – sobre a linguagem, sujeito e tempo. RJ. Ed. UFRJ – Ed. Tempo Brasileiro.
Arest, A. (1958). The Humam Condition, Chicago: Chicago Univ. Press.
Byington, C. A. (1988). Estrutura da Personalidade, Persona e Sombra, SP: Ed. Ática.
Bohm, D. (1980). Wholeness and the implicate order. London: England Ark.
Franz, M. L. (1985). Alquimia, SP: Cultrix
-------------- (1966). O Feminino nos Contos de Fada. Petrópolis: Vozes
-------------- (1992). C.G. Jung seu mito em nossa época. SP: Cultrix.
Jaffé, A. (1990). Ensaios sobre a psicologia de C. G. Jung, SP: Ed. Cultrix.
Jung, C. G. (1984). A Dinâmica do Inconsciente, Petrópolis, Vozes
------------- (1981a). A Prática da Psicoterapia, Petrópolis, Vozes
------------- (1986). AION – Estudos sobre o simbolismo de si-mesmo, Petrópolis, Vozes
------------- (1981b). Desenvolvimento da Personalidade, Petrópolis, Vozes
------------- (1963). Memórias, Sonhos e Reflexões. RJ, Nova Fronteira.
------------- (s/d). O Homem e seus Símbolos, RJ, Nova Fronteira.
------------- (1985). Mysterium Coniunctions, Petrópolis: Vozes
Kuperman, P. (1993). Ciência e Tradição: horizontes de desarmonia in: Pub da Pós-Grad. ECO/UFRJ. RJ
Lyiotard, J. (1986). O Pós-moderno, RJ: José Olympio.
Mello, E. C. C. (1995). Contribuições epistemológicas para a comunicação interdisciplinar: as teorias cosmológicas, as cosmogonias e sistema totalizante de C.G. Jung, Projeto de Doutorado, RJ: ECO-UFRJ.
Morin, E. (1996). Ciência com Consciência, RJ: Bertrand Brasil.
----------- (1980). Le Méthode, Paris, Seuil, V.II.
Novello, M. (1988). Cosmos e contexto, RJ, Florese Universitária.
Nicolescu, B. (1995). Ciência, Sentido & Evolução à Cosmologia de Jacob Bocherne, SP, Ed. Athar. Nunes, A.M.S (1989). Possíveis implicações epistemologias do conceito de interação não-ordinária para noção de sincronicidade de Jung, Dissertação de Mestrado, RJ, FGV/ISOP.
Pedro, R. M. I. (org) Cognição de híbrido. In: Amaral, M. T.,Contemporaneidade e novas tecnologias, RJ, Sette Letras.
Sá Junior, N. N. (1991). Holodontia, princípios e fundamento da odontologia sistêmica, RJ, Enelivros Editora.
Sigelmann, E. alii (1989), Sistema Internacional como objeto de estudo da Psicoterapia: Hegemonia Epistemológica. Cadernos do ISOP, FGV. III.
Silveira, N. (1981) Jung, vida e obra, RJ, Ed. Paz e Terra.
segunda-feira, fevereiro 05, 2007
Tao te king II
As pessoas se voltam para a religião.
Quando elas já não acreditam em si mesmas,
Elas começam a depender da autoridade".
Lao-Tsé, Tao Te King
"Quando ricos especuladores prosperam
Enquanto fazendeiros perdem sua terra;
Quando funcionários do governo gastam dinheiro
Em armas em vez de curas;
Quando a classe superior é extravagante e irresponsável
Enquanto os pobres não têm para onde ir -
Tudo é roubo e caos.
Não está de acordo com o tao.
Lao-Tsé, Tao Te King
sexta-feira, janeiro 19, 2007
Duvidas (e a falta delas) Cartesianas
Ao pensar descarto qualquer duvida de uma possível loucura,
Não cogito sobre ela, logo não sou louco.
O louco não cogita sobre sua loucura,
Logo, ele não é louco,
Alem do que, o louco não pensa,
Logo, ele não existe,
E é tão louco (inexistindo) que é o menos loucos dos seres,
Pois é o único que ainda não cogitou realmente sobre sua loucura.
quarta-feira, janeiro 17, 2007
A Jornada.

A terra batida é o chão, marrom escuro, semi-úmido. O vento frio sopra o desatino: tristes flores não mais cantarão. Um medo toma conta do sujeito, assujeitado por sua falta de tino. Nem sempre foi assim, dirá um velho sábio. Nem sempre. Tudo começou quando Satan chegou, trouxe toda sorte de sortilégios. Efêmero, diria mais, aterrador. O prazer se esvai com facilidade nesta terra que causa um certo arrepio. Satan traz o medo, a descrença, a separação.
Medo de não agüentar, a juventude sempre pareceu mais bela: contestadora, imprevisível, destemida, efêmera e andando em cordas bambas. Adaptar, palavra desprivilegiada naquela geração. Tudo já foi mais fácil. Separação: infância, adolescência, adultescencia, adultice e velhice. Morte. Medo. Marcas. Trabalho. Trindade.
Tempo: senhor maligno que come seus filhos impiedosamente. Essa é a história, estamos prontos. Não estamos prontos. É Satan que traz o medo, o medo de viver, de morrer, de crer, de se ajuntar. Separa como a morte, Thanatos, busca seus filhos de pouca sorte. Maldição. A maldição. Amaldiçoados. Em tristes reinados não há o que cogitar, a única aventura possível é partir pra cima gemer e amar.
E não é o amor, este fogo que emana, que a tudo faz mover? Sobre a insígnia do amor o herói enfrenta o mundo, se for preciso. É um gesto nobre, por conseguinte, preciso. Não que não seja dotado de erros, ao contrário, é o cumulo do erro. É o erro que foge ao prazer supremo da morte. Mas ao fugir do prazer da morte se desespera. Desespera por ter que viver desesperado, desespera por ter que Sofrer. Desespera por querer ser outra pessoa, desespera por querer ser quem ele realmente é.
Tormento agudo. Eis a insígnia do herói. Sai de sua terra sem conhecer esse novo mundo. Apenas teme, e ao temer, ao invocar Satan, transforma a floresta em pântano. Comete o erro de perguntar ao pássaro como andar. Um lobo nunca perguntaria a um hipopótamo como caçar. Ele simplesmente sabe, não há como duvidar. A procura é concreta e dolorosa. Seja como for, existe um bebe a sua espera, Sophia é seu nome. Só assim poderá alcançar o centro. Um pedaço de um tesouro perdido há milênios atrás. Conscientemente perdido. Tzimtzum.
quinta-feira, janeiro 04, 2007
Lógica de uma Violência e a Violência de uma Lógica

Estamos a espreita. Procurando a paz onde pudermos encontrá-la, entre traficantes, policiais ou milícias fora-da-lei. O muro pintado da cidade revela o desejo: Paz. Sem mais, nem menos: Paz. Onde o desejo de paz encontra o “de pais” é difícil demarcar, se entrelaçam, se entrecruzam. Procuramos uma proteção e assim estamos a espreita da Paz. Qual Paz queremos? No olhar da velha senhora as palavras não deixam duvida: “Se botassem dez bandidos no paredão acabava com isso!”. Paz sem Paz, ou melhor, a hipótese é transparente como o rio antes da poluição da industria: “o massacre leva a Paz”.
Fazemos então uma distinção em forma da lei: “Há os que são bons e há os que são maus”. É bem simples: Se existe “A x B” e A vencer B só restará A, desta forma a guerra leva a paz. Dessa forma o Estado venceria o Crime-Estado. Mas os nossos obstinados defensores da Paz não perceberam ainda uma falta grave em sua lógica. Existem também policiais bandidos e bandidos policiais. Então entre os sistemas estabelecemos outros pontos: existe também AB e BA. E o pior! (incompreensivelmente pior) Existem A que viram B, B que viram A, A que viram AB, etc... Etc.
Apelemos então para o ponto de vista, para a estranha hipótese de que não existe um único modo de ver o mundo. Para uns os bandidos são bons e para outros eles são maus, para uns a policia é boa e para outros ela é má. Será que se trata então de uma questão ideológica? Se existissem ideologias que se digladiassem desde sempre seria fácil responder essa pergunta: Sim, seria a resposta, mas encontramos barreiras nítidas nesse pensamento. É bem simples: os bandidos eram pobres, os bandidos desejam ficar ricos, os bandidos não tinham poder, os bandidos desejam o poder, por conseguinte: os bandidos desejam ser o Estado, a ordem e a lei. Os bandidos hoje são, entre tantas coisas, uma copia tosca do Estado e do puro desejo capitalista: capitalista selvagem.
Onde ficamos entra tamanha confusão? Seria muito fácil dizer: Ambos não prestam, pois desejam dominar, excluir, massacrar, incriminar, marginalizar. No entanto, também seria muito cômodo tomar parte de um dos lados e se calar, ficar parado, omisso a toda sorte de assassinatos, de estupros, de torturas. É uma questão de intenção. Aonde desejamos chegar.
Queremos Paz e, como diz uma bela mulher hippie: “Querer paz através da guerra é como querer a virgindade através do sexo”. Queremos Paz, mas com nosso imediatismo infantil só teremos guerra. A policia mineira entra na história como um novo comando. Um novo Estado marginal, um tanto anal, claro, não quer dar o “presentinho” (a favela) da Grande Mamãe “Policia”, mas, como resolve a diarréia escatológica (o tráfico), a policia a permite ficar lá, na santa paz dos assassinatos. Assassinam travestis, usuários de drogas e traficantes. Colocam sua moral conservadora em primeiro plano: “Ou é como queremos que seja, ou não é” e em meio a esta moral compulsiva assassinam a diversidade, o diferente, o outro.
Não queremos dizer que os traficantes sejam bonzinhos: e, acreditem, não o dissemos. Não
 queremos trafico, não queremos ditaduras, que se faça ouvir: queremos Paz. No entanto, queremos ressaltar que o trafico só existe porque existe um mercado ilegal, informal, isto é, um recalque, uma proibição, uma castração sintomática e desnecessária promovida pela nossa tão famigerada organização política (no pior dos sentidos). E ficamos jogados nesse novo mundo, nessa Nau dos Loucos do século XXI, entre as águas agitadas de um mar tortuoso, jogados, como diz Laing “num mundo louco” e ainda desejam fervorosamente que nos adaptemos, que respeitemos as leis dessa sociedade... Respeitar o que? Um tipo de pensamento que promove sua própria desgraça? Um tipo de sociedade que promove a exclusão e a barbárie? Há quem respeite, mas me desculpem meus digníssimos senhores, não eu. Não posso me calar quando vejo o transporte aumentar ainda mais, enquanto a população passa necessidade, não posso me calar ao ver os deputados quererem um aumento de 91% enquanto o salário mínimo decai (e o Globo diz que ele aumenta). Não digníssimos senhores, tenho que deixar meu sincero “Vão se fuder!” para nossos amigos do alto escalão financeiro e um grande desejo de má sorte para essa política esdrúxula.
queremos trafico, não queremos ditaduras, que se faça ouvir: queremos Paz. No entanto, queremos ressaltar que o trafico só existe porque existe um mercado ilegal, informal, isto é, um recalque, uma proibição, uma castração sintomática e desnecessária promovida pela nossa tão famigerada organização política (no pior dos sentidos). E ficamos jogados nesse novo mundo, nessa Nau dos Loucos do século XXI, entre as águas agitadas de um mar tortuoso, jogados, como diz Laing “num mundo louco” e ainda desejam fervorosamente que nos adaptemos, que respeitemos as leis dessa sociedade... Respeitar o que? Um tipo de pensamento que promove sua própria desgraça? Um tipo de sociedade que promove a exclusão e a barbárie? Há quem respeite, mas me desculpem meus digníssimos senhores, não eu. Não posso me calar quando vejo o transporte aumentar ainda mais, enquanto a população passa necessidade, não posso me calar ao ver os deputados quererem um aumento de 91% enquanto o salário mínimo decai (e o Globo diz que ele aumenta). Não digníssimos senhores, tenho que deixar meu sincero “Vão se fuder!” para nossos amigos do alto escalão financeiro e um grande desejo de má sorte para essa política esdrúxula.Assim foi falado, assim foi dito.
sábado, dezembro 23, 2006
Pois não existe natal no consumo.
mas difícil de apreender.
Onde, porém, há perigo
cresce também a salvação"
Holderin em Patmos (Tipos Psicológicos, 254).
Aumento no congresso
Festa de arromba, que arroma sem dó. Peguei um estágio agora, em saúde mental, ganharei 327 reais por 20 horas semanais. Alguem com nível superior que passe para um cargo público em psicologia começa ganhando por volta de 1.200 reais, um artística plástico já ganha por volta dos 800. Vinte e quatro mil. É justo, afinal, são tempos festivos. Não existem ocupações de sem teto, não existe movimento sem terra. Não existe miséria. Alguém já viu um mendingo na rua? Não mintam, é obvio que nunca viram, pois aquele que dormem na rua é porque estão de ressaca, pois estamos em tempo de festa, e eles estão comemorando!
A festa as vezes passa da conta, na vodka, na cachaça ou no dinheirinho. Então uma senhora biruta pega uma faca e mete no sujeito neto do senhor ACM. Ela mete, é claro, porque estamos em tempos de festa e, em festas como a nossa, é possível essas coisas de "inversão sexual". Então ele pegou a faca e meteu, meteu no fundo. Deve ter doido, mas tem gente que gosta, afinal, é festa!
quinta-feira, dezembro 21, 2006
Conversas: Da Repetição a Criação.

Parte III: A Inserção do Tempo e do Intempestivo
Saiamos do campo da crítica, que tanto consome. É preciso deixar de ser reativo e passarmos a afirmação, afirmação de um modelo que de conta da invenção. Ou seja, temos que sair da reprodução de imagens separadas, da internalização de um ente morto, um ente doente em sua reificação. Kastrup[1] fala que é necessário o tempo, o intempestivo, mas, na verdade, ambos não se confundem. Temos que saber separar o tempo cronológico, causal e mecânico, do que é acausal, incerto ou demasiadamente complexo. Os gregos faziam esta distinção no que eles chamavam de tempo cronológico e kairótico. O tempo cronológico, representado por uma reta, é um tempo constituído na linearidade, continuo, mas ordinário. Causal e mecânico, por conseguinte, ordinário. Ordinário porque é o tempo da repetição, apesar de ser também o tempo da ação, mas se tudo fosse causa, a causa última seria a causa de tudo. Na psicanálise identificamos esse “Dieu” no “complexo de Édipo” e, de maneira banal, toda interpretação onírica ou de um caso acaba levando ao mesmo ponto invariante, ao mesmo ponto central.
Central é o ponto que tocamos. Não falo aqui de qualquer masturbação, mas do que é intempestivo, daquilo que acontece como um relâmpago e nos tira do lugar, aquilo que produz uma alteração profunda no comportamento, e modo de ser, daquele sujeito que estava parado no sinal da esquina da central do Brasil. Nietzsche chamava aquele sujeito adaptado demasiadamente, a seu tempo, de decadant. Clamava não só pelo intempestivo, mas pelo extemporâneo, pois o bonito no homem é ele ser uma travessia e não um ponto final.
Mas voltemos a cognição, especialmente a Bergson, grande amigo. Bergson falava de diferentes “planos de consciência”, onde, através de uma metáfora piramidal, ele começava sua falação. “A pirâmide é formada em sua base por representações que são imagens, as quais, possuindo a forma da percepção, estão próximas da matéria. Em seu topo, estão situadas representações condensadas, dotadas de virtualidade, como o ‘esquema dinâmico’” (Kastrup, ibidem: 98-99).
Aqui podemos ver uma ampliação do conceito de representação, pois inclui um esquema dinâmico, onde existem, em virtualidade, representações condensadas, permitindo a criação de uma multiplicidade de imagens possíveis. A busca de uma palavra, de um som, de uma imagem é o esforço de invenção, ou seja, não se trata de algo causal, onde há reversibilidade. Na psicologia, a qual antes citamos, vamos ver esse esforço inventivo, criativo tanto na psicologia complexa de Jung como na esquizoanálise de Deleuze e Guattari, ambas as psicologias, diga-se de passagem, influenciadas por Bergson e Nietzsche.
A inteligência, como dissemos, não está no lugar do conjunto de representações previstas, previsíveis; podemos ainda tentar ampliar nossa compreensão sobre esse conceito, sem ter a pretensão de defini-lo. Segundo Bergson ainda, a inteligência tem uma diferença interna, e passa das representações mais repetitivas à representação mais virtual. Com essa compreensão de virtualidade podemos nos localizar numa criação que não é nem pura “solução de problemas”, sendo portanto representação provinda de re-cognição, nem provém “ex nihilio”.
[1] - Kastrup, A invenção de si e do mundo. : uma introdução do tempo e do coletivo no estudo da cognição, 1999: SP, Papirus.
segunda-feira, dezembro 11, 2006
Conversas: Da Repetição a Criação.

PARTE II: Inteligência Artificial e a Lógica da Representação
As teorias de Piaget e da Gestalt podem ser chamadas de cognitivismo e, na atualidade, encontrarão novas teorias “semelhantes” a elas como o estudo cognitivo da inteligência artificial (I.A). Podemos, primeiramente, falar de uma I.A forte e outra fraca, a primeira se refere a um isomorfismo entre a cognição entre humanos e computadores e a segunda sugere uma equivalência fraca entre ambos (apenas mesmos grafos e resultados).
Na I.A forte podemos perceber, logo de cara, uma dissociação da percepção com a consciência e com a experiência, isto é, falamos de um modelo formal invariante de cognição. Formas duras, impermeáveis ao intempestivo, a experiência. Pensamos, seguindo essa lógica, que a maquina pode pensar, além de possuir memória. Qualquer critica a esse modelo não pode negar que a maquina possui um conjunto de signos armazenados, seguindo sua lógica binária, onde a lógica 0-1 corresponde à abertura e ao fechamento de circuitos eletrônicos. Representar signos não significa, entretanto, inteligência.
A I.A parece buscar Kant para seu estudo (aproximação estudada por Joelle Proust), procurando conter todas as possibilidades de cognição dentro de dois eixos: O real e o possível, sendo o possível o plano das condições a priori e o real o plano dos conhecimentos efetivos. Nesse estudo não existe lugar para a invenção, já que todo real é limitado pelo a priori, existe uma estrutura invariável assim como as categorias a priori em Kant. A idéia de maquina universal, com em Turing . Se os estudiosos da I.A forte acreditam na inteligência dos computadores, talvez se deva a um erro na conceituação de inteligência. Jogar xadrez, por exemplo, ainda não é inteligência, pois todos os movimentos são passiveis de serem armazenados num conjunto de representações inertes, i.é, num conjunto de signos limitados. A inteligência, ao contrário, se manifesta no cotidiano, em situações onde somos levados a todo tipo de incertezas, ao intempestivo (de fato, ela pode se apresentar de muitas formas, desde formas intelectuais, a sensuais, sentimentais ou intuitivas). No cotidiano, não basta um conjunto de repertórios condicionados, pois o tempo todo somos levados a desbravar por novos caminhos e nos adaptarmos, ou não, a novas situações.
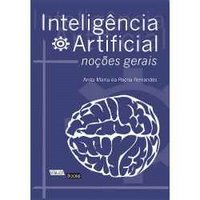
Cabe, portanto, uma discussão epistemológica. Segundo Varela as teorias da representação, como o caso da I.A, se dividem em duas posições: o realismo e o idealismo. O realismo afirma a existência dos universais antes da coisa (ante rem) e que os conceitos gerais existem em si mesmos, a modo das idéias de Platão (Jung, Tipos Psicológicos, 1991) já o idealismo fundamenta a representação na unidade do sujeito cognoscente (Varela). A I.A segue, como mostramos, um modelo realista, só que não o realismo filosófico, mas um realismo cognitivo, pois tem interesse nas representações que dependem da interação com o “ambiente”. O realismo cognitivo permanece, no entanto, no espaço intermediário (após conceituaremos as diferenças entre intermediação e mediação) entre sujeito e objeto tratando ambos como espécies de mônadas representacionais (lembrando Leibniz), ou seja, regiões pré-dadas em “relação”.

Se conhecer fosse de fato representar, estaríamos num mundo atemporal, onde existiria apenas re-cognição, ou seja, apenas re-visão “do mesmo”. Aquilo que se repetiria eternamente, a mesma imagem, o mesmo som, o mesmo cheiro, o mesmo caixão.
Não gostaria de me estender, apenas coloco então que muitas criticas poderiam se apresentar a tese da I.A dura, por exemplo, ao conceito de informação (em contraponto à cognição inventiva e a noção de agenciamento). Seria também importante um estudo sobre a aprendizagem, que não a limitasse ao famoso “decorar matérias” e resolver problemas já dados. Aprender é antes des-cobrir um outro, agenciar-se com ele (usando os termos deleuzianos) e descobrir onde há afetação, onde a um novo descobrimento de si e do mundo. Para mais informações sobre a I.A vejam o livro de Levy “As tecnologias da inteligência”, assim como Kastrup: “A invenção de si e do mundo” e “Maquinas Cognitivas: da cibernética à autopoeise”. É, eu também tenho que ver muita coisa..
[1] - Essa conceituação é feita por Z. Phylyshyn.
[2] - http://pt.wikipedia.org/wiki/Máquina_de_Turing_universal
quarta-feira, dezembro 06, 2006
Conversas: Da Repetição à Criação

PARTE I: Modelos Invariantes e a Lógica da Representação.
Pretendo apenas começar uma conversa entre discursos, sem recheio de citações, especialmente sobre o tema da invenção, ou da criatividade. Uma conversa crítica. Por criatividade não compreendo o movimento de solução de problemas simplesmente, por mais que a criatividade também possa passar por essa esfera de resoluções, mas também como criação de novos problemas e surgimento de algo que não se limita à mera representação, isto é, a repetição.
As escolas cognitivistas em psicologia, como a Gestalt e a Psicologia do desenvolvimento de Piaget, baseada em sua epistemológica genética, acabam por ressaltar a re-cognição na base da cognição e da percepção. Ressaltar a recognição significa dizer que elas, ao abordarem a cognição, criaram modelos de aprendizagem ou percepção “normais”, na relação entre sujeito e objeto, ambos objetificados, onde não haveria margem para uma modificação desses modelos. Acabam, portanto, por louvar um modelo estruturalmente fechado de cognição, de percepção, que limita o sujeito por remetê-lo a um “instituído” cognitivo, ao invés de abrir margem a modificações estruturais, da própria lógica que se baseiam.
A Gestalt, por exemplo, foi influenciada pela fenomenologia de Husserl, e procurou os invariantes perceptivos, como as leis da boa forma (o eidos do fenômeno, após a observação da variação eidética) no estudo da cognição. Ela acabou por falar da cognição como algo que está entre o sujeito e o objeto, na relação entre ambos, pressupondo duas categorias ontológicas distintas e marcadas, como se pode observar, por leis invariantes. Isso abre margem, por exemplo, a considerar tudo que está fora dessas percepções invariantes como patológico, irreal.
A relação do sujeito com o objeto, mediada pela cognição perceptiva, seria limitada não por aspectos ontogenéticos, como a memória ou outras funções pessoais, mas, como eu disse, por modelos universais como as leis de “figura e fundo”, “proximidade”, “semelhança”, etc fazendo assim um contraponto ao behaviorismo em voga na época. Ela, todavia, acabava por tirar o sujeito do condicionamento que destrói toda criação e inseri-lo numa nova lógica que também acaba com ela. Dessa forma, tudo que foge ao equilíbrio da boa forma retornaria a ela, mesmo que sobre um outro aspecto. A criatividade ai se resumiria aos famosos inghts, que seriam reestruturações cognitivas, que não podem ser confundidas com invenção, pois se trata, na melhor das análises, em meras “soluções de problemas já dados”. Logo, a cognição mesmo quando sai de seu foco padrão, se voltaria a um outro padrão, a uma outra forma cognitiva a priori.
Já Piaget, apesar de colocar o tempo no estudo da cognição, colocá-la no próprio desenvolvimento ontogenético do sujeito, acabou por não escapar das mesmas invariantes. Na teoria de Piaget, com sua lógica científica, uma pessoa se limita a sua própria estrutura cognitiva momentânea, para assimilar ou não determinado fato. Existem, para essa teoria, diversas estruturas cognitivas hierarquizadas (a criança precisa de descentrar para apreender outra lógica e se recentrar num modelo superior). Falando das fases do desenvolvimento da criança, acaba por limitá-las a um mesmo processo universal e generalizante que massacra o diferente, que não está contido em suas categorias. A lógica que o move é a lógica científica e, no movimento teleológico que cria, acaba por identificar o desenvolvimento final com a ciência positivista, com a criação das hipóteses dedutivas no pensamento do sujeito.
quinta-feira, novembro 30, 2006
O motoqueiro e o som misterioso

Pegou as malas e saiu. Corajoso como fora há dias atrás, quando pegou todas as contas atrasadas e acendeu aquela fogueira. Ascendeu aquela fogueira de maneira relaxante, como que livrando-se de um excesso de peso que machuca as costas. Deixara que aquelas contas se acumulassem, pela sua própria maneira de viver, consumista sim, mas não submisso. Mais se assemelhava a alguma espécie de parasita estranho, excêntrico, que os anti-corpos ainda desconheciam. Parecia mesmo que ele era mutável, tão mutável que antecipava a si mesmo, e se escondia nas neblinas de sua própria falta de identidade.
Saira do seu quarto imundo para entrar naquela estrada, avermelhada e úmida, e quanto mais sua moto antiga seguia por aquelas vias pouco usadas, mais parecia aumentar a chuva. Um barulho, como que um gemido divino o perseguira, mas ele não sabia bem do que se tratava, pensou primeiro que podia ser sua moto, mas logo desistiu de sua hipótese, pois o som era muito disperso, estranho e atraente.
Luis sentiu-se atraído por aquele som. Seu percurso perambulante agora tinha um rumo, encontrar a origem daquele som tão belo, indistinguível e difuso como aquele próprio lugar. Nestas situações que inspiram a mente filosófica, ascendeu um baseado e começou a imaginar como seria se ele fosse apenas uma história contada, de geração em geração, sobre um maluco que escutava os sons da vida, e surfava com sua moto pelos túneis da realidade. A vida para ele era como uma majestade, não existiam bifurcações naquela estrada, ela levava a um lugar só, como que por desígnio divino.
O eco do espaço juntava-se a fumaça que saia da boca de Luis, e encontrava-se com os pequenos matagais nos cantos da estrada avermelhada. Cada vez que a fumaça encostava-se aos matagais, a estrada dava uma tremida, como que tivesse vida, como fosse um pequeno terremoto. E se a estrada estivesse se mexendo, e Luis apenas estivesse parado, o tempo todo? Pensamentos estranhos vagavam por aquelas terras inóspitas.
Durante sua viajem, que já não se sabia se era real ou fantasiada, começaram a aparecer um grande número de motos, com o mesmo destino de Luis, com seu rumo, atrás do som sensual e chamativo, como o de uma sereia mais bela que as aquarelas de Deus. Ele havia se perguntando sobre aquela situação: O que acontecera? Por que tantas motos? Por que essa dis-puta? O mar de perguntas vinha sem as ondas de resposta. Fez então o que qualquer ser humano normal faria nessas situações: Acelerou sua moto e começou a corrida.
Passados alguns minutos já havia despistado aqueles idiotas. Passou a mão no rosto e enxugou os olhos da água que caia, que nessa hora já era excessiva. O som aumentava e tornava-se cada vez mais perceptível, era uma voz feminina, um som de gemido, de prazer. Acelerou então ainda mais a sua moto velha e suja de poeira, tirou seu casaco com seus patches do Motorhead e deixou jogado nas costas. Aquele local começara a ficar mais escuro, mas algo já se pronunciava a sua frente.
Era uma mulher de olhos castanho-mel, mas não era isso que chamava mais atenção e sim sua nudez radical. Ela era o núcleo de todo aquele mundo estranho. O ponto visceral de toda aquela espécie de realidade, coisa que ficara evidente para ele, apenas por uma questão sensitiva. Parou então sua moto suja e dura, que misturava em sua cor poeirenta as cores das cervejas e vinhos de terceira ali derramados. Pegou uma rosa de tijolos e deu a mulher da nudez radical.
Ela olhou seu rosto, segurou com força suas bochechas e ficou examinando. Foram momentos de tensão, indescritíveis por palavras. Então segurou seu pênis com a mesma força e intensidade e falou algo em seu ouvido, algo que até hoje não se sabe, mas que fez Luis suar como uma lebre no cio. O volume e fluxo de sangue no corpo do Luis mudaram totalmente de foco, da defesa para o ataque, e concentraram-se no membro peniano.
Ele então segurou aquele peito maravilhoso com uma das mãos, enquanto a outra passava pelas pernas e subia, até encontrar o ponto de ebulição, nem em cima, nem em baixo, mas no meio, aquele que entre extremidades faz tremer a terra e cair um dilúvio. Ela tremeu com o leve tocar do dedo indicador de Luis em seu clitóris, a passagem foi tão suave como uma nuvem que desliza empurrada pelo leve vendaval, suave como uma pluma.

A chuva intensificara-se ao mesmo tempo em que aumentava o som externo do gemido divino e abria-se um imenso sorriso no rosto da mulher da nudez radical. Ela então tomou a dianteira e empurrou Luiz para o chão vermelho e macio daquela realidade na qual se encontravam. Um leve mexer de sobrancelhas dizia a Luis que eles não tinham tempo... Ele avistou então, enquanto aquela maravilhosa vagina cobria amorosamente seu pênis, um mar de motoqueiros devassos fãs de Judas Priest correndo freneticamente em sua direção, como se tudo aquilo tivesse haver com a vida e a morte.
Foi então que ele se lembrou do que a mulher da nudez radical dissera em seu ouvido, e percebeu como tudo aquilo era de fato importante. Nesse momento toda terra parou e progrediu ao corpo de Luis e da Mulher da nudez radical que se juntaram numa realidade onde não havia mais distinção entre ele e ela, terra e mar, corpo e alma.
Tudo se tornara preto, como o breu da madrugada de uma cidade sem lâmpadas, como o inicio e o fim dos tempos. O silencio absoluto precedeu o auge do som, do calor e da chuva. Corpos relaxados e sensação de bem-estar. A flor de tijolos se abre, e um ponto de luz sai de lá.
terça-feira, novembro 28, 2006
Impregnado

Constato, com demasiado tato, que hoje dizem muito sobre o dado. O dado, um tanto generalizado, é usado só porque é quadrado, e com seus seis lados, só pode ser jogado por alguem que, sistematizado, não consiga rolar como uma bola. Assola minha mente essa gente que não roda e nem se atola! Que tom dormente tem essa mente que não chora quando amola um faca cega! Doente re-insidente, residente dessa lógica gincanesca, que permanece como uma virgem a la putanesca, inpenetrável. Abra as pernas e deixe o dado pelado!
Dado o dado do postulado, como um fato fadado a seguir o passado, como dizer que algo pode vir-a-ser impropriamente a própria mente de algo demente, imprudentemente? Não é a mente, que não mente, impropriamente julgada numa vara - NÃO FÁLICA - de ser ela mesma um fato? Mas que ato covarde, mas que fato que cheira a poeira! Como se tudo fosse sempre o mesmo cinza, dizem não ao amarelo, como se amar-elo fosse algo indiferente, ver-de longe essa coisa é coisa pouca e de certo fica seco na bouca, pois a louca tragédia do elo, é como um grande cast-elo, castando sua própria destruição, como numa maldição inflingida a fingida vida presa a si.
Ver-melhó é preciso. E então o chuvisco poderá voltar a nos molhar, numa era sem azá.
sexta-feira, novembro 03, 2006
Para além do Positivismo

Para além do Positivismo
– Contribuições da epistemologia junguiana para uma epistemologia complexa.
Resumo
Pesquisamos, através de revisão bibliográfica, as contribuições da epistemologia junguiana para uma epistemologia complexa, observando onde e quando podemos dizer que há uma superação, mesmo que relativa, do modelo positivista. Se, de fato, Jung começou seu trabalho psiquiátrico utilizando-se de uma postura positivista, abriu-se um grande leque, posteriormente, de compreensões epistemológicas na teoria junguiana, contribuições estas que se mostram de extrema valia para uma epistemologia complexa.
1 - Introdução:
Abordaremos, no presente texto, o tema “contribuições da epistemologia na teoria de Carl Gustav Jung (1875-1961) para uma epistemologia complexa” na tentativa de reunir elementos de sua obra, e de pesquisadores do tema, que abordem as questões relativa ao “ato de conhecer” e reflexões acerca dos métodos de acesso ao conhecimento utilizados e propostos por Jung, tal como de que forma as contingências desse conhecimento se dão, mostrando inclusive onde, nos textos de Jung, ele utiliza pressupostos modelares ou paradigmáticos, científicos ou filosóficos. Procuraremos descobrir se existem ligações fundamentais e contribuições valorosas da epistemologia junguiana para uma epistemologia contemporânea e complexa.
O tema pareceu importante visto o preconceito que alguns pesquisadores, na academia, estabelecem com Jung e com a psicologia analítica, devido à falta de leitura de sua obra e vendo-a indiretamente através dos olhos de outros autores. Esboçaremos a pergunta que urge por respostas: “Existem contribuições na epistemologia utilizada por Jung para uma superação do positivismo em psicologia?”.
Para abordarmos a epistemologia em Jung, termos que abordar a complexidade e diferentes paradigmas[1] que se desvelam durante toda sua extensa vida e obra, desfazendo nossa típica unilateralidade, objetiva ou subjetiva, para analisar a relação sujeito-objeto e suas nuances. Jung viveu o bastante para passar por momentos de profunda mudança nos paradigmas da ciência e pode conceber um discurso acerca do conhecimento que possibilita a não hierarquização da ciência como saber único, como diz Mello “a ciência não é o saber, mas um saber” (Melo, 2002 1: 25). Em outras palavras: “A ciência, no entender da psicologia analítica, é uma teoria sobre o real, é um método, um instrumento ocidental, cujos conceitos são simples instrumentos destinados a facilitar a exploração da realidade do inconsciente. Logo, as teorias não são respostas definitivas trazendo o perigo de cedermos a ilusão de termos captado o todo, como se ao nomear o desconhecido tomássemos posse dele. A ciência seria uma modalidade de compreensão, culturalmente a mais valorizada e só se torna demolidora, quando reivindica para si o privilegio de ser a única e a melhor forma de apreensão (Jung 1968a apud Melo 2002 2)”.
2 – Metodologia
Este estudo foi realizado a partir da revisão bibliográfica da obra de C. G. Jung, assim como de pesquisadores do tema, “epistemologia na psicologia analítica”, como Heloisa Cardoso e Elizabeth Mello e de uma “epistemologia complexa” como Fernando Rey.
3 – Positivismo e Rompimentos.
Certamente não podemos descartar as influencias do positivismo e da objetividade no estudo e historia de Jung, especialmente porque ele começou utilizando-se de testes experimentais para abordar questões da psicologia freudiana, e só depois se aproximou de um estudo do conhecimento que Cardoso chama de “anti-positivista”. Para esclarecer o protótipo do positivismo e anti-positivismo citamos Cardoso: “o anti-positivista – é relativista, entendendo o mundo a partir dos indivíduos que o integram, só se podendo captar o significado de uma situação do ponto de vista do quadro de referência de seus participantes. Não existe qualquer conhecimento objetivo, podendo-se no máximo se chegar a um acordo inter-subjetivo” (Cardoso, 2002) enquanto “o positivista – procura explicar e predizer o que acontece no mundo, buscando regularidades e relacionamentos causais, através de pesquisas experimentais e da possibilidade de falsificação de hipóteses. Para ele, o conhecimento é acumulativo”. (ibid).
Jung na sua “primeira fase”, da ciência clássica, da “psicologia experimental, estudos comportamentais usando psicofísica e linguagem” (Melo, 2002 1), ainda mais próximo do modelo cientifico positivista utilizou-se de experimentos, estando numa perspectiva nomotética, que segundo Cardoso se refere à preferência do “(...) rigor técnico, a sistematização, a quantificação, os testes de hipóteses, usando questionários, testes de personalidade, instrumentos personalizados de pesquisa etc”. (Cardoso, 2002),
Jung disse: “Com as experiências de associações (1903), começou minha atividade científica propriamente dita. Considero-as como meu primeiro trabalho realizado na linha das ciências naturais. Foi então que comecei a exprimir meus pensamentos próprios. Depois dos Estudos Diagnósticos sobre as Associações (1903) apareceram duas publicações psiquiátricas: Psicologia da Demência Precoce (1907) e O conteúdo das Psicoses (1908). Em 1912 apareceu meu livro Metamorfose e Símbolos da Libido, que pôs fim à amizade que me ligava a Freud. Nesse momento – nolens volens – comecei a seguir o meu próprio caminho”. (Jung, 2005: 182).
Sobre a questão do trabalho experimental Jung nos diz em artigo de 1936 revisto em 1954: “Eu próprio conduzi durante vários anos um trabalho experimental; no entanto, através de minha ocupação intensa com neuroses e psicoses fui levado a reconhecer que – por mais desejável que seja a avaliação quantitativa – é impossível prescindir do método descritivo qualitativo. A psicologia médica reconheceu que os fatos decisivos são extraordinariamente complexos e só podem ser apreendidos através da descrição casuística. Esse método porém exige que se esteja livre de pressupostos teóricos. Toda ciência natural é descritiva quando não pode mais proceder experimentalmente, sem no entanto deixar de ser científica. Mas uma ciência experimental torna-se inviável quando delimita seu campo de trabalho segundo conceitos teóricos. A alma não termina lá onde termina um pressuposto fisiológico ou de outra natureza. Em outras palavras, em cada caso singular, cientificamente observado, devemos levar em consideração o fenômeno anímico em sua totalidade”. (Jung, 2006: 68).
Em sua época, no campo da psicologia, quem reivindicava para si o titulo de “ciência natural” era a psicofísica, além da psicologia experimental. Jung dizia, em 1924 que: “A psicologia analítica ou complexa – como também é conhecida – se distingue da experimental pelo fato de não isolar as diversas funções (funções sensoriais, fenômenos psíquicos etc.) e de não submetê-los aos condicionamentos experimentais a fim de explorá-los; pelo contrário, procura ocupar-se com a totalidade dos fenômenos psíquicos tal como ocorrem naturalmente, o que constitui um conjunto extremamente complexo” (Jung, 2002: 96-97). Aqui já se desvela a própria complexidade no estudo junguiano, complexidade que não permite um associacionismo ou elementarismo, mas procura estudar os fenômenos de maneira complexa, in situ, e não dissociados.
Ele se enfatizou, portanto, uma perspectiva qualitativa, mesmo que tenha começado utilizando uma base positivista, tal como Freud que, na época, ainda estava sobre uma grande influencia positivista, estava “sob a égide de uma perspectiva ‘fisiologista’, mecânica, hidráulica, ou seja, referente ao paradigma cartesiano-newtoniano”. (Melo, 2002). Apesar de todo o dito, a psicanálise já se apresentava como ruptura no que concerne ao inconsciente, inconsciente este que será postulado de maneira nova por Jung.
Segundo Fernando G. Rey em “Pesquisa Qualitativa em Psicologia” o qualitativo é além de uma simples metodologia, mas constitui uma epistemologia diferente do quantitativo e do positivismo. Ele diz: “A contradição entre o qualitativo e o quantitativo não se expressa instrumentalmente, mas nos processos centrais que caracterizam a produção de conhecimento” (Rey, 2002: 30). E é justamente para esse lado que Jung parece se encaminhar, quando rompe com Freud, onde “o rompimento com o seu mestre e amigo em função das criticas, não aceitos por Freud, que Jung faz, a época, a teoria psicanalista, principalmente, ao primado da sexualidade como causa da psicodinâmica individual” (Cardoso 2002). Neste momento, que pode ser demarcado quando Jung acaba de escrever “Metamorfoses e Símbolos da Libido”, que segundo Jung “(...) o capitulo ‘O Sacrifício’ me custaria a amizade de Freud. Nele expus minha própria concepção de incesto da metamorfose decisiva do conceito de libido e de outras idéias, que representavam meu afastamento de Freud”.(Jung 2005).
No seu momento inicial foi quando Jung fazia seus estudos psiquiátricos, no entanto, podemos dizer que mesmo neste momento Jung não foi totalmente absorvido por este modelo de ciência, visto sua ligação com os estudos de hipnotismo de Pierre Janet e seus contatos com Freud, alem dele mesmo citar que na sua época como psiquiatra ele observou, em contraposição à ciência da época que, “Em muitos casos psiquiátricos, o doente tem uma historia que não é contada e que, em geral, ninguém conhece. Para mim, a verdadeira terapia só começa depois de examinada a historia pessoal”.(Jung, 2005). Aqui já podemos observar um rompimento com a lógica generalizante e objetificante do positivismo. Trata-se, sempre, do contato entre seres humanos únicos.
4 - Complexidade
É importante ressaltar que Jung não foi arbitrariamente se distanciar da ciência clássica, por buscar um modelo excêntrico de compreensão, mas, ao contrário, foi levado a buscar um paradigma que fosse honesto com as dificuldades que se interpõe no estudo da psique pela própria psique. No livro “Arquétipos e Inconsciente Coletivo” ele nos explica algumas das dificuldades deste acesso à psique e, logo, ao ato de cognição: “(...) Na psicologia, um dos
 fenômenos mais importantes é a afirmação e, em particular, sua forma e conteúdo, sendo que o segundo aspecto deve ser o mais significativo, em vista da natureza da psique. A primeira tarefa que se propõe é a descrição e a ordem dos acontecimentos, seguida pelo exame mais acurado das leis de seu comportamento vivo. A questão da substância da coisa observada só é possível na ciência da natureza onde existe um ponto de Arquimedes externo. Para a psique falta um tal ponto de apoio, porque só a psique pode observar a psique. Conseqüentemente, o conhecimento da substância psíquica é impossível, pelo menos segundo os meios de que dispomos atualmente. Isso não exclui de modo algum a possibilidade de a física atômica do futuro poder propiciar-nos ainda o ponto de Arquimedes a que nos referimos. Por enquanto, nossas elucubrações mais sutis não podem estabelecer mais do que é expresso na seguinte sentença: assim se comporta a psique. O pesquisador honesto deixará de lado respeitosamente a questão da substância (...) Por maior que seja o seu significado para a vida individual e coletiva, faltam todos os meios à psicologia para provar a sua validade num sentido científico“. (Jung, 2006: 205).
fenômenos mais importantes é a afirmação e, em particular, sua forma e conteúdo, sendo que o segundo aspecto deve ser o mais significativo, em vista da natureza da psique. A primeira tarefa que se propõe é a descrição e a ordem dos acontecimentos, seguida pelo exame mais acurado das leis de seu comportamento vivo. A questão da substância da coisa observada só é possível na ciência da natureza onde existe um ponto de Arquimedes externo. Para a psique falta um tal ponto de apoio, porque só a psique pode observar a psique. Conseqüentemente, o conhecimento da substância psíquica é impossível, pelo menos segundo os meios de que dispomos atualmente. Isso não exclui de modo algum a possibilidade de a física atômica do futuro poder propiciar-nos ainda o ponto de Arquimedes a que nos referimos. Por enquanto, nossas elucubrações mais sutis não podem estabelecer mais do que é expresso na seguinte sentença: assim se comporta a psique. O pesquisador honesto deixará de lado respeitosamente a questão da substância (...) Por maior que seja o seu significado para a vida individual e coletiva, faltam todos os meios à psicologia para provar a sua validade num sentido científico“. (Jung, 2006: 205).Já a partir da idéia do inconsciente coletivo temos uma re-ligação com o mundo, uma ligação “ser-cosmos” que havia desaparecido com toda ciência clássica, elementarista, substancialista e causal. Os estudos elementaristas e substancialistas estavam sendo, na época dos estudos de Jung, ora ou outra, atacados pelas novas descobertas da ciência, em especial da física, “A noção de substancia dissolveu-se em probabilidades e ‘tendências para existir’. As conexões não-locais de partículas contradiziam a causalidade mecanicista” (Tarnas, 2005). Esta mudança de paradigma surgida no seio da física quântica abriu novos espaços a novas idéias, onde “A profunda interconexão dos fenômenos estimulava um novo pensamento holístico sobre o mundo, com muitas implicações sociais, morais e religiosas”. (ibid). Sobre o holismo citamos Melo “O termo holismo vem do grego holos: totalidade, refere-se a uma compreensão da realidade em função da totalidade integrada, cujas propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores sem consideração desse entrelaçamento de elos que se interpenetram, mesmo que virtuais”.(Melo 2002 1). Jung era versado em todo esse conhecimento e inclusive “melhorou” sua teoria de arquétipos, distanciando-se mais do positivismo, com a ajuda de um grande físico quântico da época, Wolfgang Pauli.
Alguns autores ainda propõem que Jung seria idealista. Nosso estudo, no entanto, nos levou a outra compreensão da epistemologia junguiana, uma compreensão nem idealista, nem objetivista. Fato é que Jung propunha uma validade a alma e uma autonomia relativa a mesma, onde: “A psique cria realidade todos os dias. A única expressão que me ocorre para designar esta atividade é fantasia (...) é a mãe de todas as possibilidades onde o mundo interior e exterior formam uma unidade viva (...)”. (Jung, 1991). Ele diz: “Afinal, o que seria da idéia se a psique humana não lhe concedesse um valor vivo? E o que seria da coisa objetiva se a psique lhe tirasse a força determinante da impressão sensível? O que é a realidade se não for uma realidade em nós, um esse in anima? A realidade viva não é dada exclusivamente pelo produto do comportamento real e objetivo das coisas, nem pela fórmula ideal, mas pela combinação de ambos no processo psicológico vivo, por esse in anima. Somente através da atividade vital e especifica da psique alcança a impressão sensível aquela intensidade, e a idéia, aquela força eficaz que são os dois componente indispensáveis da realidade viva. Esta atividade autônoma da psique, que não pode ser considerada uma reação reflexiva às impressões sensíveis nem um órgão executor das idéias eternas, é, como todo processo vital, um ato de criação contínua.” (ibid: 63). Neste movimento, nos parece mesmo que Jung não seria nem nominalista[2], nem realista[3].Temos aqui, então, um ponto intermediário, ou o “terium”, e não mero idealismo ou materialismo[4]. Ele diz sobre o problema entre nominalismo e realismo: “(...) a divisão não pode ser resolvida discutindo-se os argumentos dos nominalistas e realistas. Para a solução, é preciso um terceiro ponto de vista, intermediário. Ao esse in intellectu falta a realidade tangível, e ao esse in re falta espírito” (ibid: 63).
Este é um dos pontos nevrálgicos da psicologia analítica: o falar da realidade da alma, desta como relativamente autônoma, assim como da validade das idéias, por exemplo, quando ele diz sobre as questões da fé: "No que se segue trataremos de veneráveis objetos da fé religiosa, e todos aqueles que se ocupam com isso correm o risco de ser reduzidos a pedaços pelo entrechoque das duas partes que discutem acerca desses objetos. Tal discussão parte do estranho pressuposto de que só é "verdadeiro" aquilo que se comprovou ou se comprova como sendo uma realidade física. Assim, p. ex., acreditam que o nascimento original de Cristo foi um acontecimento físico, ao passo que outros o negam, esta divergência de posições é logicamente insolúvel, e por isso seria melhor que os contendores deixassem de lado essas discussões estéreis que não levam a nada. Ambas as partes têm e não têm razão, e chegariam mais facilmente a um acordo se renunciassem à palavrinha "físico". O conceito de "físico" não constitui o único critério de uma verdade, pois há também verdades psíquicas que não se podem explicar, demonstrar ou negar sob o ponto de vista físico. Se houvesse, p. ex., uma crença geral de que em certo período da história o Reno tivesse corrido da foz para a nascente, tratar-se-ia de uma crença que é um fato em si, embora a sua formulação no sentido físico deva ser considerada como simplesmente inadmissível. Uma crença como esta constitui uma realidade psíquica, de que não se pode duvidar e que também não precisa ser demonstrada.
Os enunciados religiosos são desta categoria. Todos eles se referem a objetos que é impossível constatar sob o ponto de vista físico. (...)” (Jung, 2001: 1-2). Melo ainda enfatiza: “Jung deixa, em seu arcabouço teórico, implícita a idéia de movimento e de intencionalidade do próprio sistema, como algo vivo e que é a um só tempo em parte fechado, mas que inclui uma abertura. Reajustes permanentes são características de sistemas vivos; abertos e interconectados com o mundo, consigo próprio (perspectiva holística de Jung)” (Melo, 2002 B: 111).
Temos na psicologia junguiana uma valorização das contradições, fantasias, etc., e nesse momento que tentamos chegar o mais próximo possível do “todo”, não supervalorizando, inclusive, nenhum aspecto heurístico particular, mas todos que possam nos favorecer na pesquisa do humano em sua totalidade. Jung diz ainda em suas formulações iniciais, em 1910: “Contentei-me em conservar uma posição intermediária, que mantivesse a linha de simples consideração psicológica das coisas, sem tentar acomodar o material a este ou àquele princípio fundamental, hipotético apenas (...) apenas um especialista parcial poderia declarar como universalmente válido algum princípio heurístico, que fosse de valor especial para sua disciplina ou para seu modo pessoal de considerar as coisas” (Jung, 2002: 5-6).
Outros dois aspectos interessantes de serem observados para o desenvolvimento da complexidade, contradição e relatividade na epistemologia junguiana são a linguagem e o modo de apreensão singular diante do mundo. Para Jung a linguagem deveria poder ser “não-métrica, não-linear e não-espacial dependendo da realidade a que venha a se reportar, incluindo sempre as circunstancias do sujeito que observa e do seu objeto de estudo. Resgatam-se assim, as varias faces dos fenômenos que ficavam a margem da totalidade no racionalismo cartesiano”. (Melo, 2002 A) Jung fala em sua autobiografia que a linguagem “precisa ser ambígua, isto é, ter sentido duplo, se quiser levar em conta a natureza da psique e seu duplo aspecto. É conscientemente e com deliberação que procuro a expressão de duplo sentido para corresponder a natureza do ser, ela é preferível a expressão unívoca. (...) A expressão unívoca só tem sentido quando se trata de constatar fatos e não quando se trata de interpretação, pois, o sentido não é uma tautologia, mas inclui em si sempre mais do que o objeto concreto do enunciado”. (Jung, 2005).
Já o problema dos “tipos psicológicos” foi em grande parte epistemológico e surgiu através de uma observação fenomenológica da alma. Nenhum dos tipos, na verdade, pode reivindicar para si todo critério de verdade, pois incorreria, desta forma, a uma interpretação unilateral dos fenômenos, rechaçando apenas uma das possibilidades de se relacionar com o mundo, ou com a alma. Jung diz que “A idéia da uniformidade das psiques conscientes é uma quimera acadêmica que facilita a tarefa do professor diante de seus alunos, mas que desmoronou diante da realidade” (Jung, 1991). Poderíamos prosseguir com essa idéia até pontos mais altos, como as questões do estudo da ciência, pois fica evidente a inexistência de uma objetividade independente do sujeito, ao menos, enquanto este está preso a seu tipo unilateral. Segundo Jung, existe uma compensação entre inconsciente e consciência, i.é, uma compensação pela unilateralidade da atitude consciente. No inconsciente ficam as outras atitudes psicológicas “não valorizadas” e é bem provável que o inconsciente, ao emergir, seja parcial, ou seja, não se mostre de maneira objetiva, mas também tendenciosa. Ele poderia, por exemplo, aparecer num sonho através da função intuitiva, numa atitude introvertida, quando o sujeito é excessivamente extrovertido e sensual (no sentido da função sensação) em suas relações conscientes. Isso demonstra de que modo há também, no inconsciente, uma relatividade e uma complementação da consciência.
5 – Resultados
Observamos que existe uma saída de Jung do modelo positivista, no entanto, em sua obra fica claro que não se trata de uma ruptura absoluta, pois o Jung, ao que parece, preferia o caminho do meio, melhor dizendo, o caminho da síntese. Certamente Jung permaneceu com influências empiristas, como quando afirma sobre o inconsciente coletivo: “Apesar de me terem acusado freqüentemente de misticismo, devo insistir mais uma vez em que o inconsciente coletivo não é uma questão especulativa nem filosófica, mas sim empírica” (Jung, 2006: 55) assim como uma pretensão de pensar uma nova ciência em psicologia (não uma nova escola). Isso se torna evidente pelo próprio rigor que ele teve pelo conhecimento e, mesmo quando faz analogias históricas comparativas, explicita bem suas diferenças contextualizadas com o saber que propõe.
A epistemologia junguiana nos parece ser uma das grandes pioneiras de uma epistemologia complexa, além de uma “epistemologia da congruência”. Podemos ver dentro da obra de Jung uma série de modelos científicos e filosóficos que foram utilizados com rigor e sabedoria, mesmo que vários deles tenham sido depois abandonados. Já mais perto do final de sua obra Jung pareceu caminhar bem mais em contramão ao positivismo do que ele caminhou antes. Uma das contribuições mais fundamentais da epistemologia junguiana para uma epistemologia contemporânea e complexa parece ser a própria validade da alma e de seus conteúdos, mesmo quando irracionais, fantásticos ou supostamente fantasiosos. Essa noção já nos lembra a nova compreensão da subjetividade por alguns ramos da ciência cognitiva que não diz mais que: “o ser humano é uma tabula rasa” que introverte os “dados” (entendido num sentido objetivista e positivista), mas sim que subjetiva o “real”, i.e, toda apreensão é condicionada pela singularidade do sujeito e por uma subjetividade coletiva, seja por uma questão perceptiva, seja por uma questão emocional; então Rey nos diz: “Na nossa opinião, a subjetividade é um sistema complexo de significação e sentidos subjetivos produzidos na vida cultural humana, e ela se defini ontologicamente como diferente dos elementos sociais, biológicos, ecológicos e de qualquer outro tipo, relacionados entre si no complexo processo de seu desenvolvimento. (...) A subjetividade individual é determinada socialmente, mas não por um determinismo linear externo, do social ao subjetivo, e sim em um processo de constituição que integra de forma simultânea as subjetividades social e individual. O indivíduo é um elemento constituinte da subjetividade social e, simultaneamente, se constitui nela” (Rey, 2002: 36-37). Sobre isso, lembremos Von Franz, quando perguntada: “Com relação às discordâncias dos intelectuais que dizem que a psicologia junguiana não é ‘científica’, a idéia prevalecente é que a ciência precisa ser universal e, enquanto se considera o tom emocional e pessoal do indivíduo, o que se faz não é ciência, mas arte; desta forma, parece-me que a psicologia junguiana é uma ciência e uma arte”. Ao que ela diz: “Sim, você tem razão. O que se tem a acrescentar a isso é que uma emoção não é necessariamente não universal, se considerarmos a hipótese do arquétipo. Se eu tenho uma emoção pessoal que surgiu através de uma constelação arquetípica, então ela é, também, uma emoção universal. Dessa forma, os cientistas erram quando identificam sentimento e emoção como puramente subjetivos. Eu mesma posso ter uma forte emoção pessoal que é uma emoção arquetípica. Muitas pessoas podem ter essa emoção e, nesse sentido, ela é universal” (Franz, 2005: 237).
“Quod natura reliquit imperfectum, ars percifit”
O que a natureza deixa imperfeito, a arte aperfeiçoa.
6 – Bibliografia
Cardoso, H. O que você deve saber para entender Jung – 1. Fundamentos do pensamento junguiano. 2002
FRANZ, M. L, A Interpretação dos Contos de Fada, 3ª parte: “Perguntas e Respostas”, São Paulo: Paulus, 1990. 5ª edição, 2005.
JUNG, C. G., Memórias, Sonhos e reflexões. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 2005. (1957-1960)
JUNG, C. G., O Desenvolvimento da Personalidade. Petrópolis: Vozes. 8ª edição: 2002.
JUNG, C. G., Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Petrópolis: Vozes. 2006
JUNG, C. G., Resposta a Jô. Petrópolis: Vozes. 2001. (1952).
JUNG, C. G., Tipos Psicológicos. Petrópolis: Vozes. 1991 (1920-1)
MELLO, E. Mergulhando no mar sem fundo. 2002, A
MELLO, E. Origem e Totalidade: Contribuições Epistemológicas Interdisciplinares para a Comunicação entre as Áreas do Saber: Psicologia, Física e Mitologia. 2002, B
REY, F. Pesquisa Qualitativa em Psicologia – caminhos e desafios. São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 2005. (reimpr. Da 1. ed. De 2002).
TARNAS, R. A Epopéia do Pensamento Ocidental: Para Compreender as Idéias que Moldaram Nossa Visão de Mundo. 7ª edição. Bertrand Brasil: 2005.
[1] - “Paradigma vem do grego e quer dizer: para = alem de; deigma = manifestação. O que esta para alem da manifestação e, portanto, indica a direção que vira. Esta nos parece uma melhor acepção do que as traduções costumeiras como modelo ou arquétipo”. (Cardoso, 2002).
[2] - “Por nomialismo entendemos aquela escola que afirmava serem os assim chamados universais, ou seja, os conceitos genéricos e universais como a beleza, o bem, o animal, o homem etc., nada mais do que nomes (nomina), ou palavras ironicamente chamadas sopros de voz (flatus vocis)” (Jung, 1991: 40).
[3] - O realismo, contudo, afirma a existência dos universais antes da coisa (ante rem) e que os conceitos gerais existem em si mesmos, a modo das idéias de Platão”. (ibid, 40).
[4] - Materialismo não deve ser confundido com o materialismo histórico-dialético.
terça-feira, outubro 31, 2006
Manifestação em solidariedade aos povos de Oaxaca
Manifestação em solidariedade aos povos de Oaxaca - Rio de Janeiro
Por Ação Global dos Povos
Convocamos a tod@s para a Manifestação em Solidariedade aos Povos de Oaxaca - 01/11, quarta-feira às 11h no Consulado Geral do México do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 242 Convocamos a tod@s a se manifestarem exigindo o fim imediato da repressão a APPO (Assembléia Popular dos Povos de Oaxaca) e a população de Oaxaca. O chamado é urgente devido a extrema violência seguida de assassinatos(um voluntário do Indymedia morreu assassinado por tropas paramilitares) promovidos pelas instituições federais mexicanas desde o último final de semana contra a insurreição popular, a qual exige a renúncia do governador Ulisses Ruiz. Em seu governo, Ruiz é acusado de alta corrupção e tem promovido perseguições aos movimentos sociais. Tragam suas panelas, apitos, badulaques, indignação, sombreiros, tequila e solidariedade! Em solidariedade aos Povos de Oaxaca, Ação Global dos Povos - Rio
Para maiores informações: www.midiaindependente.org
Nova-mente em dia-gnóstico,

O caminho de fora se torna menor do que o de dentro,
Você não sabe como pode escapar,
Desde quando é assim?
Desde quando você é prisioneiro em sua casa?
Uma multidão te cerca e exige resoluções
Mas em desespero,
Você não pode deixar a guerra acabar
Não há caminho no qual se salvar,
Não existem estradas as quais trilhar
A não ser ir para fora e também lutar,
Mas quando você percebe que só há espelhos,
Como você poderia se auto-sabotar?
Desde quando é assim?
Desde quando você é prisioneiro em sua casa?
Desde quando você se vê nesta tormenta?
Desde quando você anda sem olhar para onde?
De um lado um ateu braveja um postulado
Contrariando a fé do atormentado,
Em um canto um velho senhor lê antigos tomos,
Enquanto atiradores preparam para matar um santo
Quando você reza, o que você sente?
Quando você se pega em tom clemente
Será que você não escuta, um tom apocalíptico,
O fim do mundo?
Ou um novo renascer?
É algo que está por vir,
Ou algo que esta por ser?
Um suspiro, um tanto heurístico,
Expressa seus desejos,
Um dia talvez eles se mostrem
Em carruagem celestial
E aquela Paz, que destrona infernos
Apareça num momento primordial.
Já existiu, momento ao qual...
Você me disse:
“Que maravilha!”
Não desista, nem em hipocondria,
De viver cada vez,
Um novo dia.
quinta-feira, outubro 26, 2006
Identidade, Singularidade ou Si-Mesmo?
segunda-feira, outubro 23, 2006
O ter e o ataque!
- Bonita, por que você não compra mais roupas?
- Ora, prazer, bem lhe entendo. Acho que comprarei.
Então, com segurança, seguiu ela pelas avenidas longas e, de sobre-salto, viu um belíssimo que usava um chapeloso maravilha –e também usava um homissimo belo -.
- Quanta audácia, creio eu, este belíssimo estar com esse maravilhoso que, digo e repito, é chapelissimo! - dizia bonita.
- Ora – concordou prazer – eu acho que belíssimo deveria se vestir com homens melhores.
- Concordadissimo! – disse bonita, meio que não entendendo nada.
Então todos eles, bonita, prazer, maravilha e belo, resolveram ir para a ilha de caretas. Onde, em seus iates, poderiam des frutar maravilhas modernas. Pois, como se sabe, hoje em dia quem tem poder é quem tem adjetivos!

